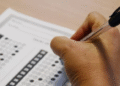GIRO NA ECONOMIA – Na semana passada, uma matéria chamou atenção ao revelar que, hoje, praticamente uma em cada seis famílias nos Estados Unidos tem um milionário. O número impressiona – mas também acende um alerta. Ainda que estejamos falando de uma realidade americana, as semelhanças com o Brasil, guardadas as devidas proporções, são maiores do que se imagina. E não apenas porque faltam dados nacionais precisos (como quase sempre), mas porque o fenômeno da acumulação acelerada de riqueza e sua transmissão entre gerações já está em curso por aqui também.
Quem não conhece a história da WEG, a gigante brasileira dos motores elétricos? Ela é hoje considerada a maior “formadora de milionários” do Brasil. Praticamente toda a família envolvida está no topo da pirâmide econômica. E o que vale para a WEG também vale para outras famílias empresariais tradicionais, como os Moreira Salles (do Unibanco), os Safra (do setor financeiro), ou os Batista (do setor de carnes). A última e penúltima geração de brasileiros ricos acumulou fortunas que já estão mudando a estrutura da sociedade – e o comportamento de consumo.
Esse acúmulo de capital familiar, somado ao envelhecimento da população e à baixa taxa de natalidade, está nos levando a um fenômeno inédito: a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Filhos e netos herdarão fortunas bilionárias. Mas será que estarão prontos para isso?
O novo perfil do herdeiro (e do CEO)
É aí que surgem figuras como João Adib, da CIMED. Dono de uma farmacêutica, ele transformou sua marca – tradicionalmente associada a remédios e caixinhas sem glamour – em uma das queridinhas da nova geração. Fez isso com engajamento digital, presença constante em podcasts, ações inusitadas de marketing e até eventos grandiosos. O resultado? Um produto tão básico quanto um protetor labial se tornou uma máquina de faturamento que já passa dos R$ 500 milhões por ano.
O mesmo vale para nomes como Alexandre Costa, da Cacau Show, que está investindo em parques temáticos, experiências sensoriais e novas formas de se conectar com o consumidor. O chocolate virou apenas o ponto de partida de um universo de marca que mira o bolso – e o coração – dessa nova geração rica, mas desconectada dos modelos tradicionais de consumo.
O movimento é claro: os CEOs querem humanizar suas marcas e falar a linguagem de quem vai consumir – e herdar – bilhões. Não basta mais vender. É preciso criar pertencimento.
O problema – e ele é real – é que essa geração que está herdando e acumulando riquezas não está disposta a trabalhar como seus pais e avós fizeram. E mais: estamos tendo cada vez menos pessoas no mercado de trabalho. Casais com um único filho (quando têm), mães e pais de pet, famílias homoafetivas com projetos diferentes de parentalidade, todos esses arranjos sociais impactam diretamente na força de trabalho disponível.
Ou seja: teremos, em breve, muito dinheiro… mas pouca gente para fazer as engrenagens girarem.
É aqui que entra a inteligência artificial, talvez não mais como uma escolha, mas como uma necessidade estrutural. Se não haverá mão de obra suficiente para sustentar o ritmo de desenvolvimento que tivemos nos últimos séculos, alguém – ou algo – terá que ocupar esse espaço.
Estamos, portanto, diante de uma confluência histórica: o acúmulo de capital como nunca se viu, a escassez de mão de obra, a fragmentação dos modelos familiares tradicionais e a chegada definitiva da tecnologia como braço operacional da economia. Tudo isso num cenário em que empresas precisam se reinventar para permanecerem relevantes. E quem não conseguir conversar com esse novo público – rico, conectado, mas nem sempre engajado com o “trabalhar para construir” – ficará para trás.
Esse é o retrato da sociedade que se desenha: com menos filhos, menos suor e mais herança. O desafio será garantir que, junto com o patrimônio, também se transfira propósito. Porque dinheiro, sem direção, é só um peso caro na conta.